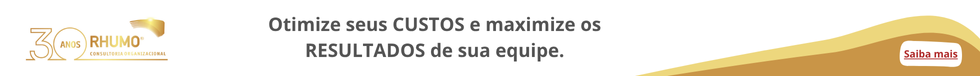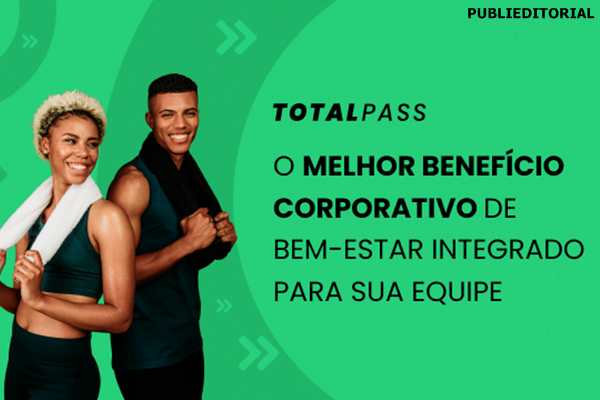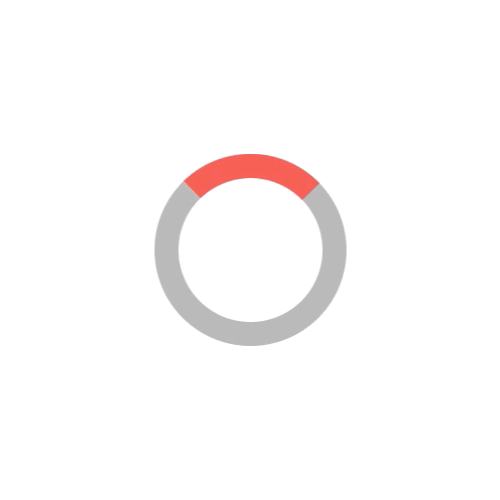EM ESG, os comitês devem ser de humanidade
A ideia não é separar por grupos de identidade, mas unir por valores comuns, diz Maurício Chiesa Carvalho
Por Maurício Chiesa Carvalho*
Os debates sobre ESG avançaram e se fortaleceram nas últimas décadas. Se, em um primeiro momento, a sigla parecia restrita a relatórios de sustentabilidade e boas práticas corporativas, hoje ela é ponto central nas estratégias de negócios, ocupando espaço em conselhos, planejamentos e fóruns decisórios. No campo social, especialmente, ganhou força a criação de comitês de diversidade, equidade e inclusão — os chamados comitês de DE&I. No entanto, é preciso uma pausa crítica. Será que, ao tentarmos incluir, não estamos também criando novas formas de separação?
Este artigo propõe um deslocamento: e se, no lugar de comitês de diversidade, criássemos comitês de humanidade?
A RIQUEZA DOS COMITÊS DE DE&I
É inegável que os comitês de diversidade trouxeram à tona vozes historicamente silenciadas. Tornaram visíveis questões de raça, gênero, orientação sexual, deficiência, idade e outros marcadores sociais. Criaram espaços seguros e políticas que buscam corrigir desigualdades estruturais. O simples fato de existir um canal institucional para essas pautas já representa avanço.
Exemplos não faltam: empresas que criam grupos de afinidade para profissionais negros; políticas de recrutamento com foco em inclusão de pessoas trans; programas de mentorias para mulheres em cargos de liderança; ações de acessibilidade real para pessoas com deficiência; fóruns de escuta com colaboradores LGBTQIAPN+. Todos esses movimentos revelam um amadurecimento social e uma tentativa legítima de tornar o ambiente corporativo mais justo.
Porém, junto com essas iniciativas, surgem também os riscos de rotular, de limitar a identidade a uma categoria, e, principalmente, de continuar operando a partir da lógica da separação.
DIVERSOS SOMOS TODOS
A ideia de diversidade parte do pressuposto de que há um padrão dominante — e o diverso é o "outro", aquele que se desvia desse centro. Mas quem define esse centro? Quem está dentro e quem está fora?
Essa abordagem pode acabar reforçando um pensamento binário e segregador, no qual cada grupo precisa justificar sua existência dentro de um comitê específico.
Quando olhamos a sociedade apenas pelas lentes da diversidade, corremos o risco de ignorar aquilo que nos é comum: a nossa humanidade. Antes de sermos parte de um grupo minorizado ou majoritário, somos pessoas. E é esse ponto que deve ser resgatado no campo da governança social: a centralidade do humano.
Humanidade como ponto de partida – Comitês de humanidade partem de outra base. Não ignoram as diferenças, mas as enxergam como expressões naturais da condição humana. Em vez de nos separarmos em grupos de identidade, nos unimos por valores comuns: empatia, dignidade, cuidado, escuta, justiça.
Um comitê de humanidade não precisa de uma pauta específica para cada grupo, mas constrói políticas com base em perguntas fundamentais: essa decisão respeita a dignidade de todas as pessoas? Estamos promovendo relações mais humanas, saudáveis e éticas? Nossas estruturas de trabalho acolhem a complexidade do ser humano?
Essa abordagem não banaliza as lutas por equidade, mas as amplia, retirando o foco do rótulo para focar na pessoa. Ela supera a lógica do “incluir o outro” para adotar a ideia de “somos todos parte”. E isso muda profundamente a forma de atuar dentro das organizações.
Unir, não segregar – Quando cada grupo precisa de um comitê separado para ser ouvido, há algo de errado com a escuta institucional. Uma empresa verdadeiramente comprometida com o social não precisa de fragmentos para exercer justiça: ela a pratica no todo, em todos os seus níveis.
Comitês de humanidade não eliminam a especificidade, mas se recusam a rotular. Eles reconhecem que o sofrimento, o preconceito e a desigualdade atingem pessoas reais, com histórias, contextos e necessidades, e que a resposta a esses desafios deve vir de um senso coletivo de humanidade, e não de uma divisão artificial entre "os diversos" e "os normativos".
Para além da sigla – ESG não deve ser uma agenda de compliance, mas de consciência. E a consciência que transforma organizações e comunidades não nasce da divisão, mas da conexão. A conexão só é possível quando enxergamos o outro como um igual — não como um “diferente”.
Por isso, ao pensarmos o futuro da governança social nas empresas, talvez seja hora de darmos um passo além dos comitês de diversidade e investirmos em comitês de humanidade. Que ouçam sem rotular, que acolham sem enquadrar, que atuem sem fragmentar. Afinal, todos somos humanos. E é a partir daí que tudo deve começar. Senão, cairemos no washing, resumindo a palavras “todes” e tendo a necessidade de colocar uma bandeira arco-íris, querendo demonstrar isso.
POR QUE COMISSÕES DE HUMANIDADE SÃO O PRÓXIMO PASSO
Diversidade é um ponto de partida. Mas a humanidade precisa ser o ponto de chegada.
De acordo com um relatório da Deloitte (2023), 39% dos profissionais em empresas com comitês de diversidade relataram sentir que suas identidades são tratadas como “marcadores institucionais” e não como dimensões humanas completas. Isso evidencia uma limitação: mesmo com boas intenções, comitês de diversidade podem acabar promovendo uma inclusão simbólica, mas não plena. A inclusão real ocorre quando as pessoas são reconhecidas em sua totalidade, e não apenas como representantes de um grupo.
Do ponto de vista psicológico, estudos da American Psychological Association (APA) mostram que ambientes que reforçam categorias identitárias sem abordar os aspectos emocionais e relacionais da convivência tendem a gerar o chamado paradoxo da inclusão: as pessoas são incluídas estruturalmente, mas se sentem isoladas emocionalmente. A verdadeira integração depende do fortalecimento da segurança psicológica, conceito defendido por Amy Edmondson (Harvard Business School), que envolve a percepção de que se pode ser autêntico sem medo de julgamento ou retaliação. Comitês de humanidade favorecem essa segurança ao deslocar o foco de “identidade grupal” para “dignidade universal”.
No campo social e cultural, a divisão em subgrupos pode reproduzir dinâmicas de exclusão — mesmo que de forma sutil. Sociedades com alto índice de polarização identitária tendem a apresentar mais conflitos internos e menos capacidade de cooperação. Isso se reflete nas organizações: quanto mais fragmentados os espaços de diálogo, menor a construção de uma cultura comum. Por isso, ao propor comitês de humanidade, propomos um espaço transversal e inclusivo por princípio, onde o ponto de partida é a escuta ampla, não categorizada.
Já sob a lente da cultura de segurança organizacional, comitês de humanidade trazem ganhos significativos. A OIT (Organização Internacional do Trabalho) e a ISO 45003 apontam que ambientes que reconhecem e respeitam a complexidade humana – com empatia, ética e inclusão — apresentam menores índices de afastamento por saúde mental, maior engajamento e maior produtividade. A lógica é simples: pessoas tratadas com respeito integral oferecem o melhor de si.
Por fim, do ponto de vista simbólico e visual, a imagem de um comitê de humanidade é a de uma roda, não de blocos separados. Uma roda em que todos cabem, onde não se precisa de permissão para entrar, onde não há categorias para justificar a escuta. Um espaço de conexão humana, que valoriza diferenças sem institucionalizá-las como fronteiras.
Portanto, caminhar para comitês de humanidade não é negar as lutas das minorias, é fortalecê-las por meio de uma abordagem mais ampla, profunda e conectada com aquilo que, no fim, nos une a todos: a condição humana. O futuro da gestão social passa por esse novo olhar, onde a diversidade é valorizada, mas a humanidade é priorizada.
*Maurício Chiesa Carvalho é head de RH, Relações Jurídicas e Responsabilidade Social da Tamarana Tecnologia e Soluções Ambientais
Foto: Divulgação/Tamarana